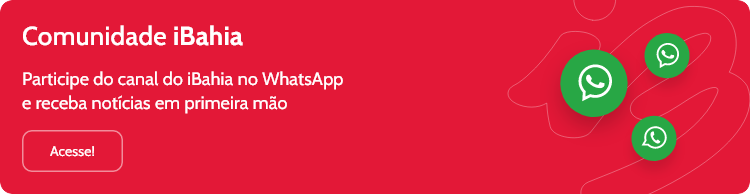Meti um tênis novo. Fones de ouvido no volume máximo. Estica daqui, alonga dali. “É isso. Vamos pra rua!”, disse a mim mesmo, sem muita convicção. E lá fui eu, remando contra a vontade. Queria permanecer em casa fazendo um monte de nada. “Sai pra lá, desânimo! Ano novo! Vida nova. Vamos que vamos.” Foi assim que retomei a rotina de exercícios em 2024.
A história de Josias chamou atenção de Ricardo durante a atividade.
Foto: Reprodução / Canva Pro
Quer dizer, tentei retomar. Digo “tentei” porque, bem no comecinho da caminhada, algo me fez interromper a marcha. Descia a ladeira de um bairro nobre, passos cumpridos como de costume, quando avistei, ainda de longe, alguém caído no chão. Reparei que algumas pessoas passavam, olhavam, seguiam suas vidas. Fiquei curioso. Acelerei os passos. Um casal chegou ao mesmo tempo em que eu. Queríamos saber o que havia acontecido. Tratava-se de um homem negro, 30 anos talvez. Usava uma bermuda tactel estampada, apenas. Um saco plástico cheio de latinhas de cerveja estava ao lado dele. Notei que tinha um machucado numa das têmporas, um filete de sangue ressecado se destacava na altura de uma das orelhas. O homem urrava de dor. O casal sentenciou: “Foi briga de rua. Certeza”. Sentenciou e também foi embora. Admito que, naqueles segundos iniciais, eu não soube como agir. Perguntei o óbvio.
Leia mais:
“Precisa de ajuda?”. Ele olhou para mim, respirou fundo, ordenou: “Chama o Samu, caralho!”. Disquei 192. A atendente fez várias perguntas, transferiu a ligação para uma médica. Outra bateria de perguntas. “A vítima respira com dificuldade?”, “Ele responde aos seus comandos?”. Atendi aos questionamentos. A ambulância foi deslocada. Fiquei sem saber o que fazer: “Sigo o meu caminho ou espero o Samu chegar?”. Esperei. Tentei tranquilizar o homem. “Calma, amigo. A médica disse que a ambulância já foi enviada. Não deve demorar”. Pessoas passavam a pé, de moto, de carro. Um motoboy encostou do lado. “Ah, é morador de rua.”
Veja também
Um homem que desfilava com um cachorro quis saber o que eu era da vítima. Uma senhora com roupa de academia trouxe uma garrafa de água mineral e um comprimido de Novalgina. Passaram-se alguns minutos. Os urros diminuíram. “Será que ele tá perdendo os sentidos?”, pensei apavorado. Resolvi puxar assunto até a ambulância aparecer na esquina. Soube, então, o nome daquele homem. Josias. Tinha 48 anos. Trabalhava com materiais recicláveis. Havia catado latinhas para apurar um dinheiro quando, segundo ele, foi atingido por uma pedra jogada não se sabe por quem. “É verdade, doutor. Não tô mentindo. É verdade”, disse Josias, como se precisasse me convencer da sinceridade do seu relato.
As palavras do reciclador reverberaram em mim. Pensei em toda a cena mais de uma vez: uma pedra lançada por alguém atingiu a cabeça de um trabalhador numa das esquinas mais movimentadas de um dos bairros mais valorizados da cidade do Salvador. Aquela não me pareceu uma história criada por alguém semi-consciente. Me pareceu, em verdade, mais um episódio da violência cotidiana que atravessa a vida de pessoas como Josias. Violências, a bem dizer. Seja a pedrada propriamente dita, sejam os julgamentos e a indiferença a que são submetidas pessoas como Josias. Ruminava essas coisas quando ouvi a sirene da ambulância. Chegaram os médicos. Josias foi colocado na maca. Levaram-no não sei para onde. Saí dali me lembrando de um romance de 1932, um clássico que li ainda na minha adolescência. Lembrei das monstruosidades que a sociedade humana era (e ainda é) capaz de produzir e que foram tão bem descritas por Aldous Huxley em “Admirável Mundo Novo”.